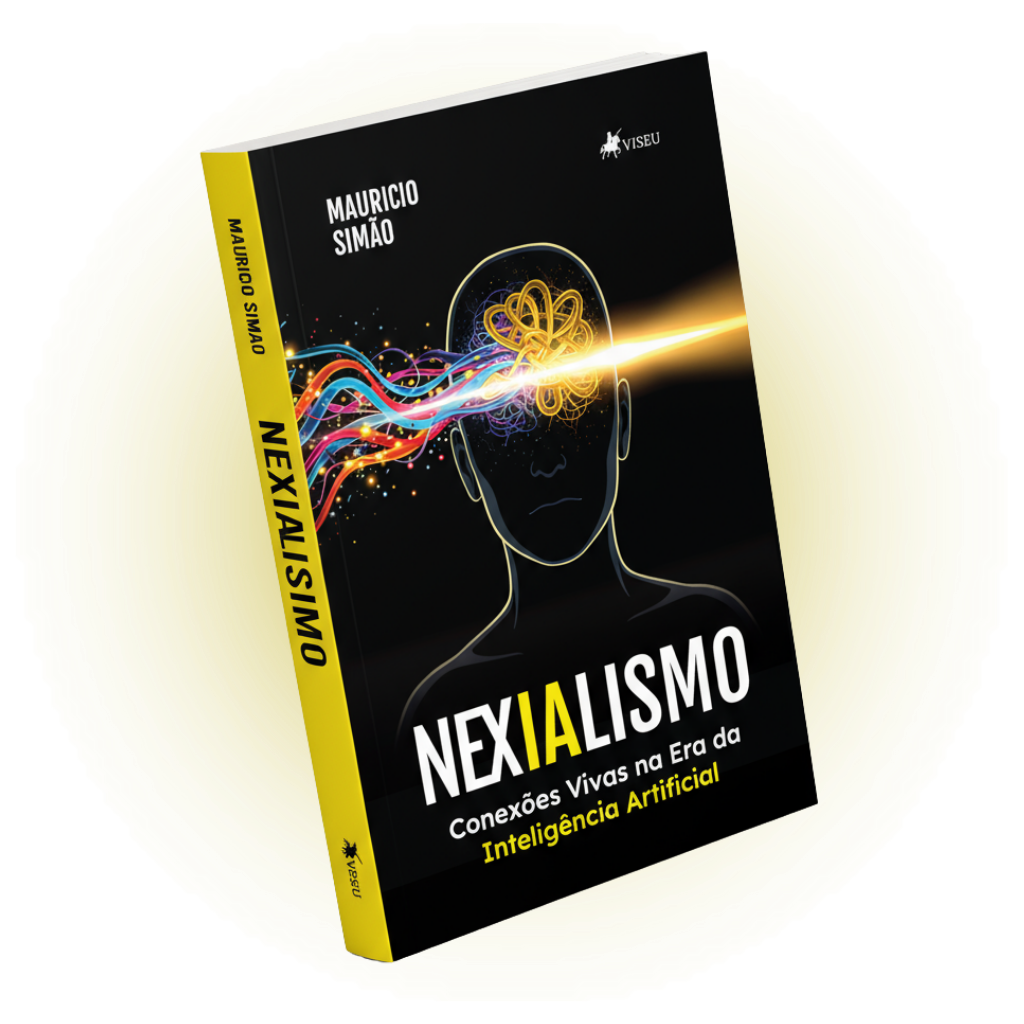Tem algo estranho acontecendo no jeito como produzimos, mostramos e celebramos o trabalho. É como se, aos poucos, a substância tivesse sido substituída pela aparência do esforço. A entrega deu lugar à exposição, e o processo — silencioso, contraditório, lento — fosse visto como uma distração, algo a ser escondido ou editado para parecer mais bonito do que realmente é.
Estamos vivendo uma inflação da performance.
Tudo virou palco: as reuniões, os bastidores, até as pausas. Posta-se a leitura antes que ela termine. Exibe-se a jornada antes de saber onde ela leva. No lugar de construção, vem a simulação. No lugar de presença, a encenação. Como se estivéssemos mais preocupados em documentar que estamos fazendo do que, de fato, fazer com profundidade.
Esse comportamento não surgiu do nada. Ele é alimentado por um sistema que recompensa visibilidade imediata — e ignora processos que não geram engajamento. É o que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama de “sociedade da transparência”: tudo precisa estar exposto, acessível, quantificável. O valor simbólico da ação é medido por sua exibição pública, e não mais por sua intenção ou impacto real.
No universo do marketing, da criação de conteúdo e até da inovação, isso se manifesta como uma urgência constante em parecer ocupado, criativo, produtivo. Só que produtividade performática é uma armadilha. O excesso de entrega sem propósito vira ruído. A exposição constante não cria vínculo, apenas desgasta.
E o mais perigoso: passamos a desconfiar do silêncio. Da ausência. Daquilo que está sendo feito longe dos olhos do público.
Mas há coisas que só nascem quando ninguém está olhando. Idéias que só amadurecem no escuro. Projetos que só encontram verdade quando não precisam ser postáveis. Há um poder imenso em sustentar o processo mesmo quando ele é invisível, mesmo quando não há curtidas, nem comentários, nem público.
Essa cultura de palco constante também produz uma espécie de ansiedade estrutural: a sensação de que, se você não está aparecendo, está perdendo. A comparação vira padrão. A consistência vira cobrança. A expressão se dilui na expectativa do que os outros querem ver — e o criador vira refém do próprio personagem.
Desacelerar o ritmo da performance não é se tornar irrelevante. É lembrar que relevância não se mede pela frequência de aparições, mas pela densidade do que se constrói. É resgatar o valor do que é feito por inteiro — e não apenas pelo aplauso.
Talvez a próxima revolução criativa não venha dos holofotes, mas do bastidor. Dos ciclos não compartilhados. Das ideias que foram cultivadas em silêncio. Das pessoas que optaram por criar, não para parecer produtivas, mas para gerar sentido — mesmo quando ninguém está assistindo.
A performance esvaziada é barulhenta. Mas a construção verdadeira, ainda que silenciosa, sempre ressoa mais longe.